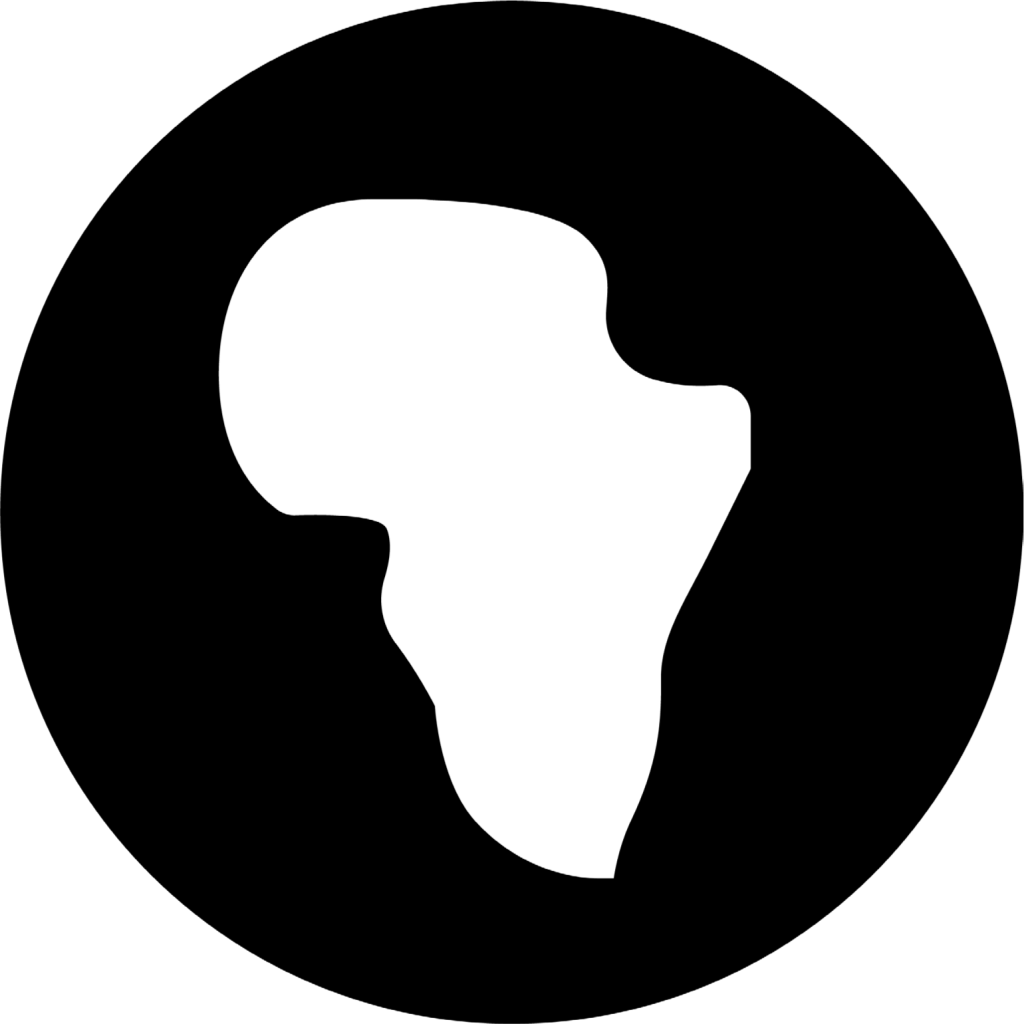Congresso de História Pública em Portugal
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa - 1 e 2 de junho de 2023

História Pública é um conceito que comporta múltiplas e controversas definições, mas também práticas testadas, experiências inovadoras e desafios futuros. Embora pouco escrutinados e divulgados em Portugal, noutros contextos nacionais e à escala internacional a História Pública institucionalizou-se como uma área de conhecimento e formação autónoma. Não obstante, há muito que os historiadores, cientistas sociais e das humanidades, investigadores artísticos e artistas portugueses recorrem a narrativas, atividades de mediação e meios de comunicação dirigidos para públicos não académicos, que se sucedem as celebrações cívicas oficiais, os projetos de base comunitária, participativa, educativa e de história oral levados a cabo em arquivos, museus, associações e movimentos sociais, assegurando a progressiva socialização da produção do conhecimento histórico. Por outro lado, a História Pública tem potenciado o trabalho interdisciplinar, possibilitando o cruzamento de metodologias e formas de conhecimento que conduzem a reinterpretações, entendimentos históricos e formas de relacionamento com os públicos originais. São prolixas as experiências envolvendo novas linguagens e tecnologias, métodos colaborativos, públicos diversos e/ou sub-representados. Desenvolvem-se projetos partilhados em torno de passados difíceis ou memórias conflituais, diversificando-se os processos e as práticas sociais de construção de património material e imaterial, de recolha de testemunhos e documentos históricos, potenciando a construção de novas identidades sociais.
Abstract: No trilho do expansionismo colonial Oitocentista podemos observar um aumento significativo nas remessas de coleções científicas para a Europa. Nesse contexto, inúmeros viajantes seguiram para territórios desconhecidos beneficiando-se de rotas comerciais, da segurança oferecida por postos coloniais e do interesse das metrópoles pelos produtos naturais de outras regiões do globo. Nessas expedições, para além de se registar informações sobre a natureza local, também se coletaram espécimes da fauna, flora e objetos etnográficos que eram remetidos para museus de História Natural e outras instituições onde, atualmente, fazem parte do património histórico, científico e cultural de diversos países europeus. Embora a historiografia das ciências tenha, por muito tempo, individualizado o resultado dessas expedições como fruto da excepcionalidade dos viajantes que as lideravam, leituras recentes apontam para a existência de centenas de colaboradores que atuavam em rede. Apesar de invisivel, a presença dos agentes locais foi fundamental para que os viajantes alcançassem os seus objetivos, pois além de compartilhar o conhecimento empírico que possuíam sobre a natureza, frequentemente prestavam auxílio na captura e preparação dos espécimes. Neste projeto KNOW-AFRICA (Redes de conhecimento na África Oitocentista: uma abordagem das Humanidades Digitais dos encontros coloniais e do conhecimento local nas narrativas de expedições portuguesas (1853-1888) | ref. FCT – 2022.01599.PTDC), propomos rever os processos de formação das coleções reunidas por quatro viajantes em dois continentes. Enquanto Bates e Wallace partiram da Inglaterra para a Amazónia brasileira em 1848, Capello e Ivens deixaram Portugal em 1877 com destino a Angola. A partir de seus relatos, investigaremos em que medida diferentes agentes locais contribuíram para a formação das suas coleções compreendendo os processos que os invisibilizaram. Uma vez que o património está intrinsecamente relacionado à dimensão pública, acreditamos que a História Pública pode contribuir para trazer à luzessa presença invisibilizada. Ao repensar o património resultante dessas expedições como fruto de relações sociais que envolveram grupos tradicionalmente mantidos à margem da história das ciências, como indígenas e africanos, abrimos caminhos para refletir sobre um património verdadeiramente mundial, relacionado à uma história global das ciências.